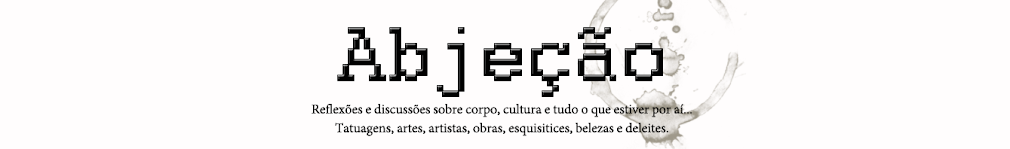A dificuldade de determinar minha identidade de gênero - a qual é uma exigência social - levou a uma série de questões e dilemas sobre os quais até hoje não sou capaz de responder. Não me vejo como uma pessoa cisgênero porque não sou uma mulher - pelo menos não estou de acordo com essa designação e com nada do que é colocado sob o conceito de "mulher" e, pensando na clássica frase de Simone de Beauvoir, eu falhei em me tornar mulher. Porém, não estar de acordo com o gênero que me foi designado também não significa que eu me identifique com o gênero masculino, aquele que ocupa o outro espectro do binário.
Pensando na fluidez, no trânsito, no eterno processo de negociação de minha identidade de gênero e dos papéis que assumo, no fato de usar meu corpo como um lugar de experimentação sem assumir características definitivas, depois de uma vida procurando compreender em que lugar me encontro e diante da pressão, por parte da sociedade, por assumir uma identidade, assumo, então, uma identidade não-binária.
Em primeiro lugar, não ter uma identidade cisgênero, para mim, não é o mesmo que automaticamente ter uma identidade transgênero. Eu não posso, em absoluto, falar pela comunidade trans como "representante". Se existem pessoas que me consideram como alguém trans, isso parte de uma noção bastante complexa que está relacionada com a história e a evolução dos Estudos Queer e de movimentos pela diversidade sexual e de gênero que ainda lutam por estabelecer consensos que, na verdade, têm mais a ver com uma obsessão humana pela classificação como recurso didático.
Tendo explicado meu lugar de fala, pretendo entrar na discussão sobre desconstruções de gênero e como, até para algo que se pretende questionador, existem pessoas capazes de incorporar um estereótipo na busca por assumir um posicionamento que lhes parece "legal" ou "moderno".
Minha primeira atitude, diante dessa caricatura, foi a de unir imagem e texto, contextualizando o painel como um todo. Temos, aqui, um indivíduo que se identifica como trans ("eu também sou trans"; "eu não sou homem, meu gênero é...") e que parece tomar o cuidado de não se colocar no lugar de mulheres. Contudo, essa aparente consciência sobre seu "lugar de fala" como "não-mulher" não parece existir quando o posicionamento diz respeito às pessoas trans. Ou seja, esse indivíduo não vê problema em falar por pessoas trans.
Esse sujeito também não se considera apropriador da cultura negra porque seu "avô era negro", mas não leva em conta que sua pele clara faz com que ele não possa falar por pessoas negras e que deve tomar cuidado ao colocar sua ancestralidade em pauta.
Outra palavra, ali, indica um comportamento machista e opressor: "gaslighting". O indivíduo que pratica o gaslighting é aquele que distorce ou omite informações para desmerecer a fala do outro. É, portanto, o sujeito que acusa uma mulher negra de ser agressiva quando ela lhe chama a atenção para a apropriação cultural, por exemplo, ou que acusa travestis de serem exageradas e histéricas, prejudicando a aceitação de pessoas trans, ou ainda que se sente atacado por feministas quando elas problematizam sua identidade de gênero.
Levando em conta todo o conjunto que envolve atitude, discurso, identificação e posicionamento por conveniência, a princípio, vi na imagem a reprodução de um estereótipo que tem se reafirmado recentemente. Trata-se da pessoa que promove uma banalização da desconstrução ao assumir, forçosamente, uma superfície "destruidora de gêneros" que não passa disso: de uma superfície. Trata-se do sujeito que nunca passou por experiências de opressão, muito menos pelo sofrimento psíquico que vem com a percepção de uma identidade de gênero destoante e com a busca pela auto-aceitação de grupos que, historicamente, são vistos com tamanho desprezo que internalizam a depreciação sem ter o direito de existir como sujeitos.
Mas há um outro ponto de vista que tira essa caricatura da qualidade de uma crítica válida para a da de uma abordagem preconceituosa que invalida a multiplicidade das expressões trans. Afinal, existem mulheres trans e pessoas não binárias que, de alguma forma, encaixam-se na aparência física do sujeito ali desenhado. A diferença é que a postura dessas pessoas não parte de uma "atuação" artificial e superficial. Há mulheres e homens trans que não se adequam ao que a sociedade espera de alguém transgênero, simplesmente porque, como qualquer outra categoria, nela está comportada uma grande diversidade.
A noção de uma pessoa trans "de verdade" está completamente baseada na medicalização da condição transgênero, que determina um "diagnóstico" pautado na infelicidade total com o próprio corpo e na necessidade de uma transição tipificada, que envolve hormonização, cirurgias e a adequação total ao gênero com o qual a pessoa se identifica.
O grande problema é que grande parte das pessoas trans não se encaixa nessas regras médicas apontadoras de uma disforia, responsáveis pela forma como enxergamos, até hoje, a transgeneridade como condição patológica. Assim, espera-se que transgêneros sigam uma norma, a qual os direcionaria a uma coerência corporal a fim de que se aproximem do ideal cisgênero.
Que homens se importem em questionar as normas de gênero e em desconstruir suas próprias masculinidades é algo positivo, mas até que ponto essa é só uma atitude que não necessariamente configura uma identidade? Em que medida se dizer trans para negar sua masculinidade pode prejudicar um movimento legítimo e múltiplo que vem lutando contra o controle exercido pelas instituições sobre seus próprios corpos? Como saber se esses indivíduos estão assumindo o protagonismo que deve ser dado a outras pessoas simplesmente por uma vontade de ser diferente?
O limite entre representação e desinformação baseada em percepções equivocadas ou generalistas é muito tênue, daí a necessidade de sempre retomarmos o debate sobre o "lugar de fala". A quem cabe a crítica ao estereótipo de um "destruidor dos gêneros"? Certamente, não às pessoas cisgênero, privilegiadas por seus corpos "lógicos" e "coerentes".
domingo, 27 de novembro de 2016
sexta-feira, 11 de novembro de 2016
Não se combate o sistema elegendo Trump
É preciso admitir: a vitória de Hillary Clinton daria continuidade ao sistema político estadunidense, controlado por grandes bancos e investidores. A manutenção de um capitalismo cruel, nas mãos de uma elite, que toma as reais decisões e manipula os governantes, de fato, aconteceria com a eleição da candidata. Não podemos ser ingênuos de achar que ela traria grandes mudanças, nem que beneficiaria efetivamente os mais pobres e as minorias, afinal, ela é uma participante de um jogo de interesses que está muito além do que nos é trazido pelos noticiários.
Nesse sentido, é até possível compreender que indivíduos insatisfeitos com o falido sistema político dos Estados Unidos tenham optado por apoiar Trump como o "menos pior", por ele não ser um dos peões nas mãos dos bancos e investidores, fator que pode ter levado ao apoio do candidato por muitas pessoas da esquerda.
O filósofo Slavoj Zizek chegou a afirmar, em entrevista, que Clinton representa apenas "mais do mesmo", alguém que mantém laços suspeitos em Wall Street, e que sua eleição simplesmente manteria o país em seu estado de inércia. Ele acredita, ainda, que as políticas de Trump não são, necessariamente, péssimas, citando como exemplo a fala do candidato sobre a necessidade de se repensar o impasse entre Israel e Palestina. Para Zizek, Clinton é "o real perigo".
Se, por um lado, Trump representa a indignação de muitos com o sistema e uma tentativa de romper com a inércia, por outro, como sujeito, ele é símbolo de algo perigoso: a sanção da violência opressora e da intolerância. Trata-se de algo paradoxal, uma vez que a vitória de Clinton significaria a continuidade da opressão do capital e de uma violência mascarada e/ou dissimulada.
O problema está na forma como Trump tem se portado ao longo de todo sua vida, o que acaba por se tornar um exemplo a atestar que alguém ser machista, racista, xenofóbico, orgulhosamente ignorante e sem filtros é algo "passável" se você está contra o sistema dominante. Além do mais, Trump pode até não ser parte desse sistema, mas é, sem dúvidas, um beneficiado por ele. Se, como afirma Zizek, Hillary é perigo real, Trump não pode ser visto como inofensivo ou como um perigo "irreal".
Não se combate um sistema cruel elegendo um homem acusado de cometer abusos por diversas mulheres (há relatos feitos desde 1980), que se gabou de assediá-las e que fez declarações públicas sobre não se importar com o que as jornalistas escrevem a respeito dele, contanto que tenham belas bundas (ele disse, para a Esquire magazine: "You know, it doesn't really matter what [they] write as long as you've got a young and beautiful piece of ass."). Não se combate um sistema cruel elegendo um homem que mente com facilidade e que tem orgulho de ser ignorante, de não gostar de ler - sendo que é fundamental, a um presidente, estudar diariamente.
Independentemente do que Trump realmente pensa - ou de como irá agir -, seu discurso durante a campanha eleitoral teve ressonância direta entre indivíduos sedentos por acabar com políticas sociais e por retomar seus privilégios, sob a justificativa de tornar a América grande/ótima novamente. Por causa do discurso proferido por Trump em sua campanha, muitos se acham no direito de agredir física e verbalmente pessoas que pertencem a grupos minoritários diversos, simplesmente porque o novo presidente do país falou a favor de suas ideias e as encorajou.
Negros, latinos, homossexuais, pessoas transgênero, muçulmanos, imigrantes, todos que não pertencem ao grupo de brancos cristãos heterossexuais estão vivenciando um momento aterrador, de proliferação da violência na forma de ameaças, ofensas, agressões físicas e humilhações múltiplas que deixam claro o quanto a sociedade estadunidense continua sendo governada pela discriminação.
Posicionar-se contra Hillary Clinton porque ela representa a continuidade do sistema mais capitalista e dominador do mundo é perfeitamente inteligível, mas apoiar Trump, acreditando que ele simboliza o descontentamento com esse mesmo sistema é incompreensível, uma vez que nem sabemos, de fato, o real posicionamento de um candidato famoso por sua conduta altamente questionável. Por mais que acreditemos na ignorância em relação ao jogo governamental como uma forma de romper com a atual hegemonia, pensar em Trump como uma opção viável é tão ingênuo quanto defender Clinton como a candidata ideal.
Grupos minoritários que continuam a fazer oposição a Trump, declarando apoio a Clinton, não acreditam que ela vá ser a presidente perfeita, mas têm uma crença de que a luta contra ela não envolva tanto medo quanto a luta que agora ocorre não apenas contra Trump, mas contra todos os que acreditaram em seu discurso e têm exercido livremente o racismo e a discriminação, como se fossem atos sancionados na própria figura do presidente.
----------------------------------------
Mais leituras:
sexta-feira, 4 de novembro de 2016
A perseguição a LGBTs no regime militar
[Este post reúne dois textos meus que tratam do tema. Tenho a intenção de fazer uma espécie de dossiê futuramente, mas é um trabalho a ser completado a longo prazo. Decidi por colocá-los aqui para facilitar a quem eventualmente faça uma pesquisa e precise consultar os dados.]
Operação Tarântula: A caça às travestis no Brasil durante os anos de 1970 e 80
O regime militar foi especialmente duro com LGBTs. Após a abertura política, policiais continuaram a "caçar" travestis com o apoio da sociedade.
As travestis definitivamente fazem parte do imaginário cultural brasileiro. Estão nas ruas, na televisão e formam um grupo social único de complexa definição. Apesar de toda sua visibilidade, isso não significa que são aceitas socialmente - muito pelo contrário, representam um dos segmentos mais discriminados e marginalizados da comunidade LGBTTT.
A expressão de gênero feminina não confere unanimidade às identidades de gênero adotadas pelas travestis: algumas se identificam como mulheres; outras, como um terceiro gênero entre o masculino e o feminino; há ainda aquelas que se dizem homens homossexuais (talvez reproduzindo um senso comum ainda veiculado pelos meios de comunicação).
De fato, historicamente, algumas travestis adotaram uma aparência feminina para conquistar mais clientes no mercado da prostituição, que por vezes se apresenta como único meio de subsistência para homossexuais efeminados nascidos em famílias pobres e que não puderam pagar por uma educação de qualidade. Mas há também as mulheres trans que não têm condições de pagar pelo processo de transição adequado e recorrem a meios mais baratos para conquistar o corpo que tanto desejam. Há até mesmo aquelas mulheres que não almejam a cirurgia de redesignação genital e abraçam a ambiguidade de gênero que acaba por caracterizar a travesti que figura na mentalidade popular.
No Brasil governado por militares, não é de se estranhar que essas pessoas tenham se tornado alvo de perseguição juntamente à comunidade homossexual (como foi o caso também dos negros, associados à "vadiagem" e "malandragem"). Apesar de muitas, à época, trabalharem na indústria do entretenimento como transformistas, a maioria absoluta recorria à prostituição para se manter e, por esse motivo, travestis eram automaticamente consideradas criminosas.
Segundo conta o livro Ditadura e homossexualidades, organizado por James N. Green e Renan Quinalha, no início dos anos 1970 a polícia civil passou a fazer rondas para reprimir a criminalidade nas grandes cidades, por meio de blitz. Assim, apreendiam LGBTs nas ruas sob a justificativa de averiguação (naquela época, havia uma lei contra a "vadiagem", que era usada como motivação para deter essas pessoas).
A partir de 1976, a polícia civil de São Paulo passou a estudar e a combater travestis. O delegado Guido Fonseca, responsável por uma pesquisa em criminologia envolvendo essas pessoas que chamava de "pervertidos" determinou, então, que toda travesti devia ser levada à delegacia para que fosse fichada e tivesse sua foto tirada "para que os juízes possam avaliar seu grau de periculosidade".
Além da repressão oficial, as décadas de 1970 e 80 testemunharam uma onda de assassinatos brutais de pessoas LGBT, algumas delas bastante conhecidas, como o diretor de teatro Luíz Antônio Martinez Corrêa, irmão de Zé Celso. Em 1987, a polícia deu início à Operação Tarântula, com o objetivo principal de prender travestis que se prostituíam nas ruas de São Paulo. Apesar de a operação ter sido suspensa pouco tempo depois, travestis passaram a ser assassinadas misteriosamente, a tiros.
Além da suspeita que recaiu sobre policiais, houve desconfiança da ação de grupos anti-gays que se manifestavam abertamente e, não raro, a própria população era favorável à matança como uma forma de "higienização" das ruas da cidade. Declarações mostradas no documentário Temporada de caça, dirigido e produzido por Rita Moreira (veja abaixo), dão a dimensão de como o ódio generalizado predominava na sociedade e, de certa forma, sancionava uma verdadeira caçada às minorias sexuais.
Conhecer esse período tenebroso da história brasileira é importante para que fiquemos atentos a novas movimentações semelhantes de ataques à comunidade LGBT - que podem começar como uma simples defesa à liberdade de expressão e ao direito de "não gostar de homossexuais". A linha entre a livre manifestação de um ponto de vista preconceituoso e a ação pode ser mais tênue do que imaginamos.
*Texto originalmente publicado em: Blasting News
Durante o regime militar, LGBTs sofriam maior perseguição
Homossexuais, travestis e mulheres trans sofriam com tortura e assédio sexual por parte de oficiais.
As narrativas que emergem desde o fim do Regime Militar, em sua maioria, dizem respeito a ativistas políticos e intelectuais que criticavam a ditadura, pouco se falando sobre a situação vivida por minorias sociais como negros, pessoas LGBT e prostitutas, que habitavam uma espécie de submundo urbano.
Em 1969, por exemplo, o Ministério das Relações Exteriores instalou a Comissão de Investigação Sumária, visando à perseguição de homossexuais, alcoólatras e pessoas consideradas emocionalmente instável dentro do Itamaraty. Ao todo, 44 indivíduos foram cassados a partir da declaração do AI-5, porque afrontavam os valores do regime em suas condutas privadas. Entre os diplomatas obrigados a pedirem demissão, 15 o fizeram em função de “prática de homossexualismo” e “incontinência pública escandalosa”, e outros 10 conduzidos a fazer exames médicos e psiquiátricos para se comprovar as suspeitas que sobre eles recaíam, justificando seu afastamento.
A ideia de repressão ao crime levou à criação de diversas operações policiais voltadas para a abordagem de indivíduos “suspeitos” a qualquer hora do dia. As rondas que, no auge do regime militar, dedicavam-se a combater as guerrilhas, voltaram-se para a realização de blitz que tinham, entre seus alvos preferenciais, negros, pobres e LGBTs com frequência detidos para averiguação conforme a interpretação da lei por cada investigador.
Nos anos de 1976 e 1977, a polícia civil desenvolveu um estudo de criminologia tendo as travestis como objeto de pesquisa, sob comando do delegado Guido Fonseca, registrando 460 delas, das quais 398 chegaram a ser levadas para interrogatório. Cada travesti fichada precisava assinar um termo no qual constavam profissão, ganho mensal, gastos com hormônios e aluguel, entre outras informações. As tentativas de implantar políticas de higienização na cidade se prolongaram também pela década de 1980, contando com o apoio de grande parte da população, a exemplo das Operações Cidade, Limpeza e Tarântula.
O relatório final da Comissão Nacional da Verdade conta que esse processo de higienização urbana resultou em pelo menos 1,5 mil prisões somente na cidade de São Paulo. As travestis eram os alvos principais de espancamentos, humilhações e extorsões, sendo com frequência obrigadas a fazer sexo com policiais em troca de liberdade.
Em relato durante o 2º Workshop Regional da Rede Trans Brasil, que aconteceu em Uberlândia no dia 22 de outubro, a mineira Sissy Kelly, hoje com 59 anos, contou sobre o medo constante de viver no regime. Não raro, para fugir, as travestis tinham de subir nos telhados das casas e ainda revelou que, às vezes, os policiais que as espancavam eram os mesmos que procuravam por seus serviços sexuais. Cada cidade tinha suas práticas e formas de humilhar as presas, que eram obrigadas a lavar os banheiros das delegacias, fazer sessões de sexo oral nos policiais, entre outros absurdos. Segundo Kelly, em Salvador, cabia a elas lavar os cadáveres recolhidos.
Marcelly Malta, de 65 anos, natural de Porto Alegre, também compareceu ao evento em Uberlândia para narrar suas memórias. Ela conta que mesmo trabalhando formalmente e saindo à rua com sua carteira de trabalho para mostrar aos oficiais, era apreendida e acusada de vadiagem, tendo sua carteira rasgada. Relata ainda que as colegas negras apanhavam ainda mais e era comum que simplesmente desaparecessem depois de abordadas por policiais.
A Operação Cidade foi deflagrada em 1980, durante o governo de Paulo Maluff, na cidade de São Paulo, sob o comando do delegado José Wilson Richetti, sob a justificativa de prender assaltantes e traficantes de drogas. No entanto, conforme noticiado pelos jornais à época, somente no primeiro dia da operação houve 152 prisões, sendo a maioria de prostitutas, homossexuais e travestis.
Se desejamos caminhar para uma sociedade mais tolerante, é de extrema importância que estejamos atentos a histórias de perseguição e também de omissão por parte de órgãos oficiais para que elas não se repitam.
*Texto originalmente publicado em: Blasting News
--------------------------------------------------------------------------------------
Leituras complementares:
Assinar:
Postagens (Atom)